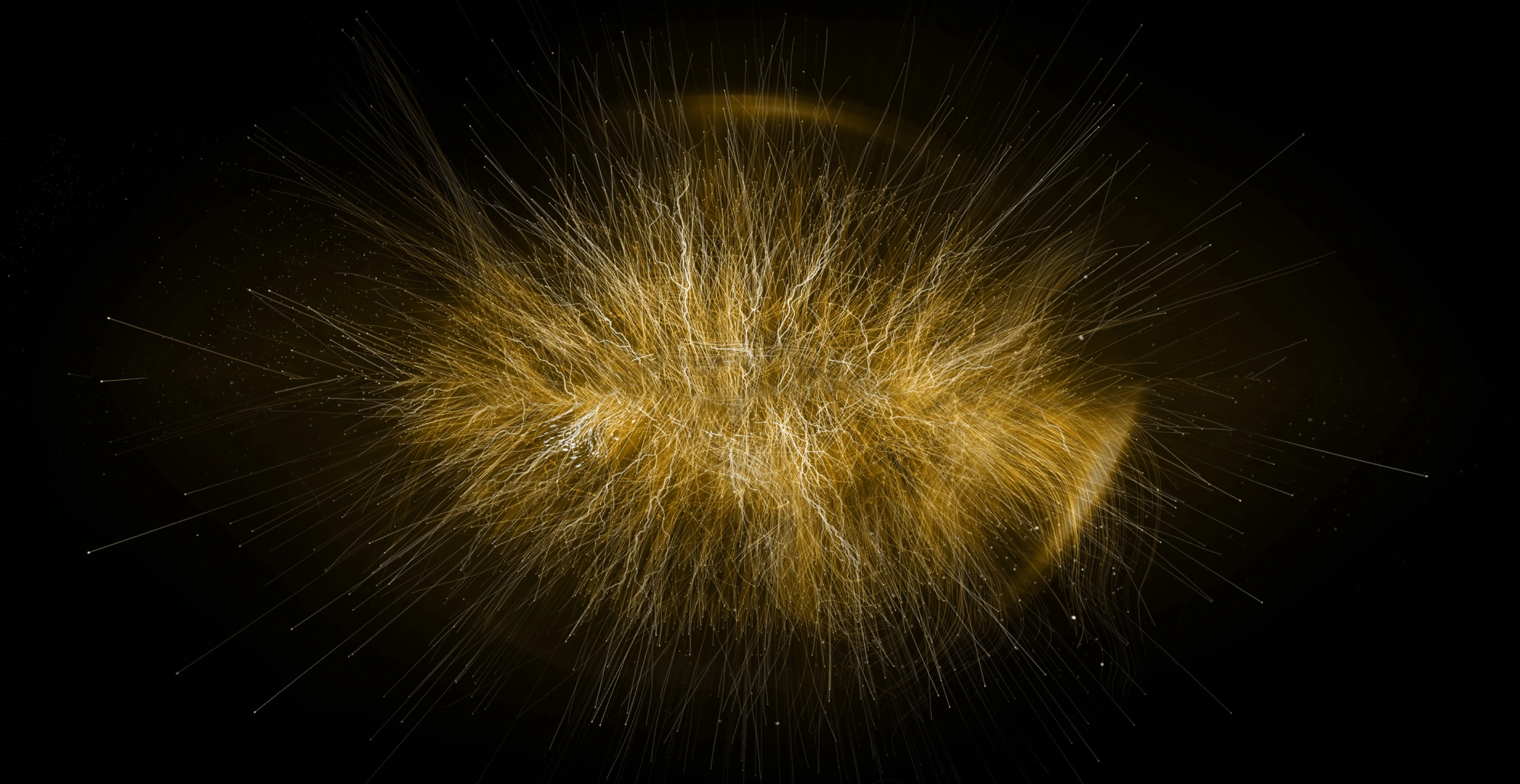Nótulas para um manifesto para uma recompreensão da função da sociedade e do escopo lucrativo e para a adopção de novos paradigmas do governo societário
Abstract: O objectivo geral do texto é analisar a possibilidade de, no quadro legal actual, impor à sociedade deveres em matéria de sustentabilidade ambiental e social. Toma-se como ponto de partida o de que a sociedade prossegue legitimamente um escopo lucrativo em benefício dos sócios, para, depois de se evidenciarem algumas mutações recentes que se repercutem na feição que esse mecanismo aberto e dúctil que a sociedade é vai assumindo no presente, se sustentar, já de jure condito, que ela está hoje necessariamente aberta a outros interesses e finalidades que não apenas os dos sócios e que isso implica uma reconstrução do escopo lucrativo, no sentido de que ele passa a incorporar, como uma das concepções dominantes na sociedade no que respeita ao modo de exercício das actividades económicas, as finalidades ambientais e sociais inscritas em textos jurídicos ou internacionais fundamentais – analisando-se o relevo que o art. 64.º, em especial a sua alínea b), do CSC pode assumir. Abre-se assim a porta ao estabelecimento amplo de deveres da sociedade e dos seus administradores em matéria ambiental e de responsabilidade social, que se podem estender a (alguns) sócios, e apontam-se alguns mecanismos de adopção voluntária que incorporem e institucionalizem no governo das sociedades a prossecução das novas finalidades. Por fim, olha-se o projecto de Directiva europeia e o seu possível alcance.
Keywords: Escopo lucrativo; deveres dos administradores; interesse social; deveres dos sócios; comité de ética e responsabilidade social; sociedade socialmente responsável.
Parte I - Escopo lucrativo, dever de lealdade e sustentabilidade social e ambiental – virtualidades e limitações do quadro legal clássico
I - Premissas gerais: da sociedade comercial como puro instrumento para a cooperação no exercício da empresa às (novas) exigências de ‘socialização’
- O direito comercial e os vários sectores da regulamentação que têm relação directa ou indirecta com a actividade económica são instrumentos fundamentais num programa de desenvolvimento da economia. No caso português, o desafio é duplo: à necessidade de desenvolvimento que aproxime a economia portuguesa das economias europeias mais desenvolvidas, acresce hoje o imperativo de que ele seja ambiental e socialmente sustentável - fazer tarde (mais tarde do que muitos outros) poderá ser a oportunidade para fazer bem. A leis que regem a actividade económica, incluindo aquelas que regem a sociedade comercial, devem, em cada momento, ser adequadas a concretizar os desígnios políticos assumidos colectivamente, como devem reflectir os valores social e politicamente dominantes.
- Centrando-nos na sociedade comercial e no seu governo (corparate governance, se assim quisermos dizer), o ponto de partida incontornável, numa economia de mercado capitalista (e não se cura aqui de discutir a bondade desta ou os modelos de intervenção directa do Estado), é o de que a sociedade comercial tem que ser assumida fundamentalmente como um instrumento dos sócios, ou seja, dos que nela investem nessa qualidade.1 Esta assunção não exclui, bem entendido, que sejam impostos à sociedade deveres face a outros sujeitos que com ela se envolvem em termos de deterem nela interesses relevantes (stakeholders) e face à comunidade (à Sociedade em geral e à comunidade com que contacta directamente) – incluindo naturalmente os clientes da empresa social, porventura consumidores. O fechamento da sociedade aos puros interesses egoísticos dos seus sócios ou antes a sua abertura a valores e interesses externos depende, naturalmente, dos valores socialmente dominantes e do modo por que eles são acolhidos no direito mercantil e em geral no direito que rege a economia.
- O relevo crescente, na esfera da sociedade comercial, de outros interesses que não apenas os dos sócios, sempre sem questionar a primazia para estes, é ilustrado pela evolução do direito e da doutrina societários, quer na Europa, quer no Reino Unido e nos EUA – na doutrina, são sobretudo os debates em torno da natureza e do papel da sociedade comercial na actualidade e do modo como ela deve ser governada que marcam a entrada de novos valores e finalidades.2
- A sociedade comercial é um contrato (começa historicamente por ser e ainda o é hoje predominantemente) ou, se quisermos, com alguma doutrina (que olha mais a empresa do que o sujeito que a detém), é um feixe ou nexus de contratos – os quais, ainda que se considerem quando se tenta entender a natureza da sociedade, é mistificatório esconder que não estão todos no mesmo plano. Mas a dimensão contratual não esgota a compreensão da sociedade comercial: esta não se reduz a contratos, mas é também e sobretudo uma estrutura e uma entidade – dimensão que tem sido mais obscurecida, não obstante os contributos de Gierke ou as modas institucionalistas que algumas fases da evolução económica foram justificando, sobretudo ao longo do séc. XX, a ponto de se poder dizer que é certeira a afirmação de que a sociedade é (também) ‘an important, yet highly misunderstood entity’.3
- A percepção da sociedade como estrutura não se pode ater a um plano de abstracção formalista ou conceitualista: ela é uma estrutura composta por pessoas, umas que estão na sua base, outras as que estão no seu topo (e, muitas vezes, por detrás dela), e é conduzida por pessoas, no interesse de pessoas (sejam elas os sócios ou accionistas, sejam elas os próprios administradores). Não é realista pensar que alguma vez venha a ser de outro modo, o que vale por dizer (sem desconsiderar, evidentemente, casos pontuais e notáveis) que apenas por força de constrangimentos externos, legais ou de outro tipo, imperativos ou de assunção voluntária, se temperará a absoluta prevalência do interesse pessoal de quem tem o controlo da sociedade - prevalência, que, como já se sugeriu, é natural: quem investe numa actividade quer ter o domínio dela, das suas finalidades e dos seus resultados.4
- A relação entre investimento e sociedade é hoje deturpada por uma mutação (perversão, será mais exacto dizer) do mecanismo societário, admitida muitas vezes na lei (é assim ostensivamente em Portugal, no regime das sociedades por quotas) ou que se foi instalando insidiosamente, nas omissões ou margens da lei vigente: em muitos casos, a sociedade comercial foi perdendo a sua feição e vocação históricas de instrumento (e vínculo entre vários sujeitos) para exercer em modo colectivo uma actividade económica, com base num investimento, para se reduzir cada vez mais a uma pura estrutura em que o capital próprio formado com o investimento estável dos sócios perde relevo ou até praticamente não existe. Se, no plano das políticas económicas, se pode duvidar da bondade de assentar a economia em projectos empresariais em que se prescinde do investimento sério dos sócios, a consequência dessa opção, no plano da concreta sociedade comercial, é deslocar o risco da actividade dos sócios para outros stakeholders, designadamente para os credores e trabalhadores – o abaixamento, a desactualização ou mesmo a não exigência de capital social mínimo têm este efeito, do mesmo modo que que o tem a não exigência de rácios entre o investimento reflectido no capital social e o investimento dos sócios por outros meios (tipo de exigências que não são de todo estranhas ao sistema – recordem-se aquelas que, sobretudo após as crises mais recentes, se fazem às sociedades que detêm bancos e aos seus accionistas).5
- O mecanismo societário conhece uma outra mutação que se deve assinalar: por via sobretudo da entrada de fundos de investimento, de pensões ou de capital de risco na sociedade comercial, esta vem sendo cada vez mais utilizada como um puro veículo de aplicação e rentabilização de capitais; nesse outro quadro, dá-se uma desvalorização da actividade e da sua sustentabilidade de médio e longo prazo, prevalecendo as políticas empresariais de rentabilidade imediata (short termism).6
- As realidades que se descrevem constituem novas manifestações de uma característica genética da moderna sociedade comercial: sendo um mecanismo essencialmente uno, ela é, a partir de um tronco comum, um mecanismo multiforme – é dúctil e apropriada a servir interesses muito díspares, em vários planos.7
- As mudanças que têm repercussão na compreensão da sociedade e do seu papel não se confinam, naturalmente, aos novos sujeitos, com interesses novos, que nela intervêm – ou que dela se servem. A reconfiguração subjectiva da actividade económica dá-se em outros planos. Destaca-se a concentração e a despersonalização crescentes da oferta, com o peso cada vez mais absorvente dos grandes actores económicos, muitas vezes grupos internacionais (os hipermercatores),8 fenómeno do qual resulta uma nova desigualdade social que vem alterar radicalmente a premissa clássica da igualdade formal entre os sujeitos que são actores no mercado, qual seja a diferenciação entre a grande sociedade e o grande grupo e a pequena sociedade por quotas ou até anónima, muitas vezes débil em si mesma ou na relação com os hipermercatores (com escasso ou nulo peso na negociação ou com acesso limitado à informação).
II - As mudanças sociais e a sua incidência sobre o papel da sociedade comercial: novos valores e novas compreensões
- A confluência destas linhas de evolução colocaria, só por si, novos desafios à compreensão do papel da sociedade comercial e ao modo como se faz o seu governo. No entanto, na actualidade, sobre esses desafios ainda não enfrentados, outros se vêm colocar, em interacção com eles.
- Por um lado, as empresas e as sociedades que as detêm são confrontadas com a crescente consciência de que o planeta enfrenta uma emergência ambiental. O ambiente degrada-se por acção humana e torna-se premente a promoção de medidas efectivas que tornem a vida no planeta sustentável, das quais as mais relevantes se situam justamente no cerne das actividades económicas.
- Por outro lado, ainda que de forma talvez menos imediatamente perceptível, a qualidade de vida nas sociedades modernas deteriora-se, apesar de o progresso científico ter permitido aumentar a esperança média de vida e de ter criado condições para alterações estruturais do trabalho – vive-se mais, em média, pode até, nas sociedades mais desenvolvidas, em algumas franjas sociais, trabalhar-se menos, mas não se vive necessariamente melhor.
- Por outro lado, ainda, em contraponto a alguma desagregação social a que não é alheio o falhanço das democracias mais avançadas na formação e educação dos seus cidadãos, é crescente a pressão para o desenvolvimento de uma nova ética nas organizações e em geral nas relações sociais.
- A consequência é que o modo como a Sociedade encara o exercício das actividades económicas está em mudança. Ou por pressão social e das opiniões públicas, ou já por decisões políticas ou imposições legais, os actores económicos estão sujeitos uma crescente exigência de sustentabilidade ambiental e social, que incide logo sobre a actividade económica em si mesma e que se estende à atitude do empresário (a sociedade comercial, no nosso caso) diante da comunidade em que se integra.
- Em Portugal, acresce a urgência de crescimento e de desenvolvimento.
- A consequência é que, no momento actual, a sociedade comercial não pode mais ser compreendida como um puro instrumento dos seus sócios. Os interesses de trabalhadores, credores, clientes ou clientes-consumidores têm hoje uma especial incidência, e, a mais disso, a sociedade tem que responder a exigências de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social. Diante disto, o primeiro quesito que se coloca é o de saber se, e em que medida, estas novas dimensões têm acolhimento no quadro legal existente.
III - Escopo lucrativo, dever de lealdade dos administradores e legitimação do lucro por critérios de sustentabilidade social e ambiental – o lucro como ganho socialmente legítimo
- A sociedade comercial existe fundamentalmente para prosseguir o escopo lucrativo que lhe é imposto pelo investidores-sócios. É assim quer a lei o estabeleça, como o faz a lei portuguesas, quer deixe o escopo em aberto. Quer isto dizer que a sociedade comercial existe para prosseguir um escopo lucrativo, mediante o exercício de uma actividade económica prevista estatutariamente de modo mais ou menos amplo – obter e repartir lucros, valorizando e remunerando o investimento dos sócios, são finalidades que se apõem à estrutura societária e que se tornam princípios que a regem.9 A repartição é o destino normal dos lucros obtidos – ainda que a maioria dos sócios (no direito português, uma maioria qualificada, expressa em cláusula estatutária ou em deliberação ad hoc da assembleia geral) possa decidir conservar os lucros como ‘reserva’, para investimento adicional ou como fundo para fazer face a dificuldades futuras, se as opções alternativas à distribuição forem devidamente justificadas por um interesse da sociedade.
- As exigências de sustentabilidade social e ambiental e a circunstância de a sociedade comercial se apresentar como um actor com uma dimensão externa que implica contactos, compromissos sociais e vínculos jurídicos com terceiros e com a comunidade em geral implicam uma recompreensão do escopo lucrativo.
- O escopo lucrativo não pode ser reduzido a uma abstracção inscrita na lei (no caso da lei portuguesa, no art. 980.º do CCiv), na qual cabe toda a actuação que se oriente pela maximização do lucro da actividade. O escopo lucrativo imposto à sociedade comercial de modo genérico é modelado, em cada momento, pelas concepções dominantes na comunidade e no sector de actividade em que a concreta sociedade comercial se integra – a alínea b) do n.º 1 do art. 64.º (que adiante abordaremos com detalhe), mas também o n.º 2 do art. 6.º, reflectem isto.
- Dito de outro modo: a concretização daquilo que corresponde em concreto à prossecução do escopo lucrativo é feita em cada momento histórico tendo em conta os fins e os valores dominantes na comunidade – a actuação da sociedade comercial, sendo norteada pelo escopo lucrativo, deve ser legitimada à luz desses fins e valores.
- Os fins e valores dominantes da sociedade não são de determinação subjectiva e não se reduzem necessariamente aos que decorrem dos interesses acolhidos no art. 64.º – podem, até, pela sua incidência, impor um alargamento dos referentes do próprio dever de lealdade inscrito na alínea b) do n.º 1 desse preceito. Em causa estão valores e finalidades que são acolhidos explícita ou implicitamente nos textos legais, em acordos internacionais ou em documentos fundamentais a que o Estado português está vinculado. De entre estes, destacam-se, no plano interno, a Constituição da República Portuguesa (art. 66.º, n.os 1 e 2, onde se consagra o direito ao ambiente, e art. 81.º, alíneas a), que impõe ao Estado uma estratégia de desenvolvimento sustentável nos planos económico e social, e f), pela qual o Estado deve assegurar o funcionamento eficiente dos mercados e impedir práticas lesivas do interesse geral), e, no plano internacional, a Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou a Agenda 2030, a qual integra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
- O movimento geral no sentido da sustentabilidade ambiental e social reflecte-se nas empresas enquanto actores económicos sobretudo pela crescente influência dos chamados valores e práticas ESG, que implicam a adopção pelas empresas de elevados padrões de conduta ética, nos planos da relação com a comunidade e com o ambiente, mas também no plano das relações no interior da empresa e com os clientes.
- A protecção do ambiente e a sustentabilidade ambiental das actividades da sociedade, a equidade nas relações no interior da sociedade e o respeito pelos direitos dos trabalhadores e colaboradores, a solidariedade com a comunidade em que se integra tornam-se, por estas vias, finalidades que a sociedade comercial está adstrita a observar e que vinculam os seus órgãos, quer na condução da actividade que é o seu objecto, quer na sua actuação geral.
- O escopo lucrativo deve ser prosseguido dentro do respeito por esses outros fins e valores, que não constituem agora meros limites externos à obtenção do lucro, mas passam a ser finalidades integradas no escopo lucrativo. O fundamento legal e dogmático dos deveres da sociedade em matéria de sustentabilidade ambiental e social da sua actuação reside, assim, no art. 980.º do CCiv.
- O disposto no 64.º, n.º 1, alínea b), do CSC, quanto ao dever de lealdade, fornece subsídios adicionais para a compreensão do escopo lucrativo no actual quadro legal. O n.º 1 do preceito cura de estabelecer os deveres principais que incumbem aos membros do órgão de administração da sociedade comercial, consagrando a primazia do sócio na sociedade, mas reflectindo também, em alguma medida, as obrigações sociais que impendem sobre a sociedade. Vejamos.
- O art. 64.º é reflexo de opções doutrinais marcadas e o seu alcance suscita muitas discussões, mormente quanto ao seu relevo na determinação daquilo a que a doutrina chama interesse social. Dirigido o seu n.º 1 especificamente a enunciar os deveres cujo cumprimento deve nortear a actuação dos administradores da sociedade, o seu texto não é sequer claro no que respeita à fixação de uma hierarquia dos interesses que confluem na sociedade e a que o administrador tem que atender. Esses deveres acolhem, no entanto, é inegável, em algumas das suas dimensões, interesses e fins que não se confinam ao interesse dos sócios.
- A alínea b) estabelece uma relação entre os deveres dos administradores e, em especial, entre o dever de lealdade (que distingue do dever de cuidado, objecto da alínea a)) e os interesses que confluem na sociedade. É, pois, do referente do dever de lealdade que a norma se ocupa.
- Antes de um referente, porém, o dever de lealdade supõe a determinação de um âmbito. Ora, esse âmbito não resulta directamente do art. 64.º, mas está nele implícito. Na medida em que se trata de estabelecer os deveres dos administradores no exercício da função de administração, resulta do art. 64.º que a lealdade dos administradores se estende a todos os aspectos da sua actuação no exercício das funções, abrangendo quer as acções e omissões no quadro da actividade económica exercida pela sociedade, quer os procedimentos adoptados tanto no modo de actuar como na organização da estrutura interna, quer, ainda, em especial, a actuação da sociedade na comunidade.10 É em todos estes âmbitos que os administradores têm que actuar com respeito pelo dever de lealdade.
- O objectivo explícito da alínea b) do n.º 1 do art. 64.º é enunciar o referente ou referentes do dever de lealdade. O administrador societário deve, desde logo, lealdade ao interesse da sociedade – que mais não é do que o interesse social e que se analisa fundamentalmente na prossecução do escopo lucrativo. Se visto positivamente, este referente tem uma dimensão de insondabilidade: com efeito, para lá dos interesses que estejam definidos no estatuto como interesses sociais e daqueles que, no âmbito das suas competências, sejam fixados por um órgão social, não se consegue perceber o que seja o interesse da sociedade, ou, dito de outro modo, como se determina esse interesse. O interesse da concreta sociedade, afirmado genericamente, é o interesse que é igual ao de qualquer sociedade, qual seja o de potenciar o desenvolvimento do seu projecto económico em vista da obtenção do lucro e assegurar sua continuidade, em função do horizonte definido para o projecto (continuidade que a lei acolhe em termos equívocos, ao aludir, quando circunscreve os outros interesses relevantes para lá do interesse da sociedade, a um critério de ‘sustentabilidade da sociedade’, que sugere, ao ser alinhado em relação com interesses dos trabalhadores, dos clientes e dos credores, uma sustentabilidade apenas económica e financeira). Neste plano geral, o interesse social é igual em todas as sociedades e carece necessariamente de concretização, que não pode deixar de caber aos órgão competentes da sociedade – é, assim, a própria sociedade que concretiza o seu interesse, o qual não é susceptível de ser determinado objectiva e externamente, e, para lá dos interesses concretos fixados pelos modos societários próprios, o alcance da referência ao ‘interesse da sociedade’ é fundamentalmente negativo: não é interesse da sociedade aquele que estiver na esfera de um outro sujeito e exclui-se a prossecução de interesses de outros sujeitos.
A esta luz, e a letra do preceito revela-o, os outros interesses relevantes são interesses que não são da sociedade, mas dos sócios, dos trabalhadores, de clientes ou de credores; por isso, a lei diz que o interesse da sociedade deve ser observado, que os interesses de longo prazo dos sócios devem ser atendidos e que os interesses de trabalhadores, credores e clientes devem ser ponderados – se esses outros interesses integrassem o interesse social não careceriam de ser atendidos ou observados.
Positivamente, da alínea b) resulta simplesmente que cabe no interesse social qualquer interesse que em abstracto seja compatível com o projecto empresarial societário e com o escopo lucrativo – o que convoca o jogo concomitante do dever (também geral) de cuidado (n.º 1, alínea a), do art. 64.º), que se concretiza fundamentalmente na realização de uma gestão sã e prudente, por aplicação de um padrão do gestor criterioso e ordenado, definido em função de critérios de racionalidade económica vigentes no sector de actividade, pontuados pela definição do modo como a sociedade nele deve intervir. Significa isto que é interesse da sociedade, no âmbito do art. 64.º, aquele que passar pelo crivo da chamada business jugdment rule e for definido no quadro de competências próprias dos sujeitos ou do órgão – ou seja, todo o interesse que seria eleito por um gestor criterioso e ordenado no âmbito das suas competências. - Depois, é certo que os demais interesses (os que não são da sociedade) mencionados na alínea b) do n.º 1 do art. 64.º não estão todos no mesmo plano. A letra do preceito evidencia-o, quando, depois de dizer expressamente que, tendo o administrador que observar um dever de lealdade que tem como referente o interesse da sociedade, prevê que ele deve depois atender aos ‘interesses de longo prazo dos sócios’ (os interesses dos sócios não são, por definição, interesses sociais, ou seja, não são os interesses dos sócios postos em comum, mas são, obviamente, interesses relativos à sociedade, e, sendo relevantes apenas os interesses de longo prazo, de fora ficam os interesses de curto prazo que poderiam inspirar políticas de short termism) e que, sobre isso e por fim, o deve ainda ponderar (já não atender, mas simplesmente ponderar) os interesses de outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, como os dos trabalhadores, de credores e de clientes (é este o terceiro plano ou patamar). A alínea estabelece um posicionamento e uma hierarquia a atender, em função do investimento pessoal ou patrimonial feito na sociedade: o dever de lealdade tem como referente o interesse da sociedade; devem, já num outro plano, ser atendidos os interesses de longo prazo daqueles que investem directamente, os sócios; abaixo desses, já no plano da simples ponderação, relevam os interesses daqueles que investem apenas indirectamente, os trabalhadores, os clientes e os credores sociais. Aliás, mesmo os interesses a ponderar não têm igual peso: em primeiro lugar, deverão ser ponderados os interesses dos trabalhadores, que são constitucional e socialmente de valor superior aos outros interesses e que não gozam de uma autotutela individual relevante; em segundo lugar, são ponderados os interesses dos credores (entre os quais se pode estabelecer uma diferenciação entre os interesses dos credores que têm mecanismos de autotutela importantes e eficazes dos demais); por fim, contam os interesses os clientes, cujo empenhamento na sociedade está abaixo daqueles outros stakeholders.
- Os administradores não têm, assim, pelo disposto no preceito, o dever de proteger positivamente outros interesses que não o da sociedade: apenas têm que atender a eles ou que os ponderar, por aplicação do princípio da adequação e da proporcionalidade, o que significa que apenas têm que os fazer valer na medida em que isso seja, em concreto, compatível com o interesse da sociedade. Para lá disso, estão simplesmente obrigados a não defraudar intencionalmente os interesses a que têm de atender ou ponderar e têm de se abster de condutas que os coloquem em risco para lá do razoável e sem que isso seja justificado pela necessidade de fazer prevalecer o interesse social. Mais uma vez o dever de cuidado, com a business judgment rule, se cruza com o dever de lealdade.
- Pois bem. O relevo do art. 64.º, e, em especial, do dever de lealdade estabelecido na alínea b) do seu n.º 1, em matéria de responsabilidade social da sociedade é manifesto e não carece de especiais justificações. São os administradores que conduzem, no essencial, a actividade económica da sociedade e que geram as suas relações com o exterior. Na medida em que eles estão adstritos a atender ou a ponderar um conjunto de interesses ou finalidades na sua actuação, o significado disso é que esses interesses ou finalidades tornam-se princípios ou regras de actuação da própria sociedade. A sua não observância pelos administradores, nos termos definidos acima, pode constituir justa causa de destituição e fundamento de responsabilidade.
- Conquanto a alínea b) do n.º 1 do art. 64.º acolha os interesses dos stakeholders de forma limitada, é certo que a sociedade fica vinculada, ao fazer prevalecer o interesse social (é dizer, na formação da sua vontade), a mobilizar e ponderar esses interesses. Diante da vinculação da própria sociedade, no que respeita à prossecução do lucro, a considerar finalidades sociais (v. supra), e sabido que é dever do administrador atender e ponderar outros interesses que não o interesse social e que daí decorre uma regra de actuação da sociedade, temos fundamentos seguros para se dizer que, no actual quadro normativo, impende sobre sociedade um dever de vigilância e de zelar pelo cumprimento pelos administradores do escopo lucrativo e do dever de lealdade (veremos adiante qual o exacto conteúdo e quais as sanções que correspondem a este dever).
- Podemos, agora, tirar algumas conclusões sobre o jogo do art. 64.º, e, em particular, a alínea b) do seu n.º 1, no que respeita à imposição de políticas social e ambientalmente justificadas. O preceito enferma logo de um limite: no dever de lealdade, apenas são considerados os interesses dos stakeholders tradicionais. Como sublinhámos, a alínea b) do n.º 1 do art. 64.º vale apenas no círculo de interesse mencionado na norma – os dos sócios, dos trabalhadores, dos credores e dos clientes. É certo que a lei se refere genericamente ‘a interesses de outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade’; mas a concretização que faz mostra que a lei intenta abranger os ‘sujeitos’ que têm uma relação concreta, específica, com a sociedade, e que enumerou aqueles de entre esses que existem por regra em todas as sociedades, querendo abranger, pois, os stakeholders tradicionalmente considerados no fenómeno societário. A comunidade em geral não cabe nem na letra nem no espírito da lei. De resto, a sustentabilidade a que o preceito se reporta, quando referida, como é o caso, a trabalhadores, credores e clientes, não pode deixar de ser a sustentabilidade económica e financeira. A sustentabilidade social e ambiental fica à margem do preceito – excepto no que concerne aos sujeitos nele mencionados.
No entanto, não se pode obscurecer a importância do art. 64.º: decorre do preceito que os administradores não podem nortear as suas actuações apenas pelo escopo lucrativo puro e que, ao interesse social que lhe corresponde, eles têm que contrapor interesses que não só não são da sociedade, como podem, na prática, conflituar com a obtenção do lucro, com a consequência de que a consideração desses outros interesses põe em crise a prevalência absoluta da finalidade lucrativa: a obtenção de lucro não é o único critério a que os administradores devem atender, por força da alínea b) do n.º 1 do art. 64.º, e isso tem por consequência uma limitação à prossecução do escopo lucrativo – que deve ser ponderado pelos interesses dos trabalhadores, dos credores e dos clientes.
Mas, neste plano, somos confrontados com outro limite: antes dos interesses dos stakeholders, que, recorde-se, devem tão-só ser ponderados, a lei manda atender aos interesses de longo prazo dos sócios – o que coloca de novo o escopo lucrativo, ainda que apenas no longo prazo, como o horizonte da actividade social. - A percepção das virtualidades e dos limites do art. 64.º permite duas conclusões. A primeira é que o preceito deveria ser revisto, não só para ultrapassar as questões de interpretação que tem suscitado, como, sobretudo, para colocar na esfera de interesses que os administradores devem prosseguir os interesses na sustentabilidade social e ambiental da actividade da sociedade. A segunda é que, na falta dessa revisão, cobra especial importância a recompreensão do escopo lucrativo à luz dos valores e finalidade dominantes na sociedade – é, pois, no quadro do art. 980.º do CCiv e da sua interpretação que se pode encontrar um apoio seguro para a imposição directa de deveres em matéria ambiental e social.
- Em síntese: o papel ou função da sociedade comercial está em mudança. No quadro social actual, ela não é mais um puro instrumento dos sócios, um veículo que se destina apenas a exercer uma actividade económica e a obter lucros para remunerar os seus sócios, que justificaria políticas de curto prazo, de pura maximização do valor do accionista e até de risco excessivo. O lucro e o escopo lucrativo são hoje integrados por outros interesses que não o da sociedade: pelo jogo desses outros interesses e fins, o lucro hoje deve ser um lucro legítimo. É assim logo por força da forma como a lei configura o dever de lealdade no art. 64.º, e é assim, sobretudo e mais amplamente, por força do carácter concretizador do escopo lucrativo que hoje deve ser reconhecido aos textos legais fundamentais e aos compromissos do Estado português. Recuperando uma expressão cunhada por Orlando de Carvalho, o lucro hoje deve ser um ganho socialmente legítimo, no sentido de que deve resultar de um compromisso entre o lucro máximo querido pelos sócios e os deveres da sociedade, como actor económico, face à comunidade e aos stakeholders.
- O quadro normativo actual permite já a recompreensão do escopo lucrativo. E é esse o fundamento genérico para o estabelecimento de deveres que impendem sobre a sociedade, sobre os sócios e sobre os seus administradores e órgãos em matéria de responsabilidade social. Por seu turno, como vimos, a alínea b) do n.º 1 do art. 64.º constitui um importante apoio, ainda que num âmbito circunscrito, para a imposição de políticas empresariais socialmente responsáveis.
- Este quadro normativo, com a necessidade de recorrer ao art. 980.º para dar abrigo à sustentabilidade ambiental e social no âmbito da actividade da sociedade comercial, tem evidentes limites. Por outro lado, o escopo lucrativo não tem um reflexo directo e autónomo na vida da sociedade. Em tese geral, a sociedade está obrigada, na prossecução do escopo lucrativo, a respeitar os critérios de legitimação social e ambiental. Mas são os seus órgãos, e, sobretudo, no âmbito da gestão da actividade que é objecto da sociedade, o órgão de administração, que têm de concretizar o escopo lucrativo – a concretização cabe a cada órgão no âmbito das suas competências legais e estatutárias. Ora, o escopo lucrativo, como critério de legitimação de cada acto ou actuação, padece de óbvia indeterminação; a sua concretização comporta uma ampla margem de liberdade, à luz da alínea a) do n.º 1 do art. 64.º, e não é, no momento actual, possível circunscrever as opções a tomar por um ‘gestor criterioso e ordenado’ àquelas que são ambientalmente sustentáveis. Pense-se, por exemplo, na decisão de mudar a frota automóvel ao serviço da empresa social: nada pode, hoje, no quadro das políticas ambientais actuais e da evolução tecnológica, impor ao órgão de administração que opte por veículos eléctricos ou híbridos – outros valores, como os da eficiência ou dos custos, podem legitimar solução diversa. Por outro lado, o juízo sobre o respeito pelo fim faz-se, no plano da gestão feita pelo órgão de administração, como no plano da actuação geral da sociedade, em termos globais – é a condução da actividade no seu todo e a actuação da sociedade em geral que podem ser sindicadas, e não cada acto de per si.
- É sabido que, mesmo no âmbito da fixação da capacidade de gozo da sociedade, o relevo que é conferido, no direito português, ao escopo é escassamente delimitativo: a conformidade de um acto com o escopo mede-se em abstracto, em função do tipo negocial em que o acto se integra; e mesmo para quem entenda de outro modo, sustentando que a conformidade com o fim se mede em concreto e que é a finalidade prosseguida por cada acto que se verifica, sempre é certo que o jogo da capacidade de gozo tem um valor essencialmente negativo, prescrevendo os actos que não podem ser praticados pela sociedade, sem que decorra dela qualquer vinculação positiva à prática de actos.
- Há, não obstante o que se diz, que deixar em aberto um ponto. Se a capacidade se mede pelo fim e se o fim tem hoje uma outra amplitude, ao jeito do que sustentámos acima, então impõe-se rever a afirmação comum na doutrina segundo a qual as doações estão em geral fora da capacidade de gozo da sociedade. Nesse novo quadro, não serão apenas os actos gratuitos previstos no n.º 2 do art. 6.º, mas também liberalidades que não preencham os requisitos desse preceito, que podem ser válidos.
- O escopo lucrativo tem, pois, limitações, no que respeita à imposição à sociedade de uma actuação social e ambientalmente responsável. Outros instrumentos, imperativos ou não, terão que ser convocados para atingir esse desiderato. Em relação com isto, haverá que indagar se os próprios sócios têm deveres em matéria da sustentabilidade ambiental e social. Mas, se bem vemos, é no âmbito da corporate governance que se deve actuar para obter resultados efectivos na adaptação da sociedade actual às exigências gerais de sustentabilidade social e ambiental. São estes os pontos que nos ocuparão na Parte II do presente texto.
Parte II - A lei, os novos valores e fins e a actuação e o governo da sociedade
- A efectividade de uma nova compreensão do escopo lucrativo – vale por dizer: o seu reflexo na actividade da sociedade – é, não obstante o que se disse, escassa: como é sabido, a sua realização prática depende do modo como se dá a sua concretização na actividade social e dos meios de tutela que lhe correspondem.
- É pensável que a sociedade que se desvia duradouramente do fim, isto é, que não cumpre, na sua prática, o escopo lucrativo, possa ser objecto de dissolução. A lei portuguesa das sociedades actual não prevê, contudo, essa consequência – em divergência, por exemplo, com o que se passa em matéria de cooperativas.
- Em todo o caso, essa omissão não apaga que o dever de prosseguir o escopo lucrativo e o seu cumprimento se constitua, à luz do ordenamento jurídico vigente, como condição do reconhecimento pela ordem jurídica da personalidade jurídica da sociedade e da atribuição, quando é o caso, da responsabilidade limitada. Decorre daí um dever dos sócios de, no exercício das suas posições societárias, fazerem respeitar o seu cumprimento pela sociedade. Não o fazendo, podem perder os privilégios que a lei atribui no pressuposto do respeito pelo escopo.
- Para lá destes instrumentos mais ‘clássicos’, organizações, doutrina e algumas empresas, directa ou indirectamente, têm posto em cima da mesa outros instrumentos, alguns dos quais se nos afiguram merecer atenção.
- Ainda ao abrigo de uma dogmática mais clássica, a possibilidade de fazer impender sobre (alguns) sócios deveres em matéria de sustentabilidade e de à violação desses deveres se associar o instrumento que é a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade é pensável. O escopo lucrativo impõe que a sociedade prossiga a obtenção de um ganho socialmente legítimo e os seus sócios têm um dever correspondente – se a sociedade se desvia dele, dá-se a violação de princípios e regras inerentes à atribuição da personalidade jurídica a que os sócios estão vinculados. O modo como o escopo lucrativo é prosseguido é, hoje, uma delas. Se não se respeitam as regras, não se justifica, desde logo, o benefício da personalidade jurídica e os sócios (alguns) podem responder pessoalmente pelos danos à Sociedade ou a terceiros.
- Os instrumentos legais actualmente disponíveis, se permitem já albergar estas soluções, são susceptíveis de aperfeiçoamento. Pode pensar-se na revisão dos textos legais em matéria de dissolução por desvio da finalidade lucrativa, a qual poderá contemplar mecanismos de correcção dos desvios antes da solução radical que é a dissolução. Pode outrossim pensar-se, à semelhança do que existe já em alguns ordenamentos (e mesmo em alguns que nos são culturalmente próximos), em alguma regulamentação legal dos termos em que é possível proceder à desconsideração da personalidade jurídica e à privação do benefício da limitação da responsabilidade e aos efeitos disso sobre alguns sócios.
- A intervenção das leis deve ser, não obstante, ponderada. As intervenções preceptivas devem ser suficientemente dúcteis para acomodarem as variações nas concepções dominantes na Sociedade (a aceleração do tempo e dos processos sociais toca também, ou toca hoje de forma especialmente candente, estes domínios) e devem evitar um excesso de regulamentação que possa constituir um entrave ao dinamismo e ao desenvolvimento das actividades económicas.
- A configuração de compromissos da sociedade comercial no que respeita à sustentabilidade tem reflexos necessários em matéria de corporate governance. O primeiro, que já abordámos, é o da imposição aos administradores de deveres especiais. A mais disso, os poderes públicos e a lei têm que intervir, na base da assunção de que medidas intra-societárias voluntariamente assumidas serão insuficientes. Mas essa intervenção não tem que seguir necessariamente, ao menos de momento, o modelo de imperatividade clássica, podendo ser mais adequado um modelo mais flexível, optativo-imperativo, caracterizado pela assunção voluntária de uma determinada opção, a que a lei associe determinadas vantagens relevantes, e que, uma vez voluntariamente adoptada, poderá desencadear a aplicação de regras imperativas.11
- O ponto de partida será o da repartição de poderes e deveres entre sócios (accionistas), assembleia geral e órgão de administração. O primeiro ponto será o de saber se é possível fazer impender sobre os sócios, enquanto tais, deveres em matéria de assegurar que a sociedade prossegue políticas de sustentabilidade e, em caso afirmativo, se esses deveres impendem igualmente sobre todos os sócios. Pois bem. Se o fundamento de um dever geral de todos os sócios é muito duvidoso (mas recorde-se o que se disse acima, sobre os deveres que são pressuposto da manutenção da personalidade jurídica), já a imposição a alguns de um dever correspectivo do poder real assumido na condução da sociedade não pode deixar de ser considerado. Neste quadro, têm que ser ponderados factores como o escasso poder de intervenção dos minoritários, o absentismo e a passividade de muitos accionistas, de um lado da balança, e o poder efectivo de determinação das políticas da sociedade, o envolvimento profissional e altamente especializado e o benefício efectivo retirado da actividade social, por outro. Mas sobretudo pode ponderar-se que a sociedade é sempre uma estrutura que tem pessoas na sua base (directa ou indirectamente, claro) e que é conduzida por pessoas que primacialmente tendem a servir os interesses dessas pessoas (porventura os seus próprios) e que só constrangimentos externos podem obter outro resultado. A esta luz, o acionista de controlo terá um dever de assegurar a prossecução do escopo lucrativo tal como o definimos acima, no âmbito das competências e decisões da assembleia, e terá o dever de assegurar essa prossecução pelo órgão de administração, o qual será fundamentalmente um dever in eligendo e um dever in vigilando, mas terá outrossim uma dimensão positiva na tomada de deliberações pela assembleia.
- Depois, se, como se disse acima e é inescapável, é o órgão de administração que tem o controlo efectivo das políticas económicas e sociais da sociedade e se sobre ele impendem deveres nessa matéria, o controlo da sua actuação tem que ser encarado de modo especial: os sócios não podem ter deveres sem poderes efectivos correspondentes (e não se fala aqui, bem entendido, do controlo comum e geral pelos sócios da sorte do seu investimento). Com ou sem deveres dos sócios, é pensável que a lei societária preveja e institucionalize (na linha do que muitas sociedades comerciais – anónimas, sobretudo – vêm já voluntariamente prevendo, ainda que quase sempre com intervenção circunscrita à aplicação de códigos de ética e conduta) um órgão com competências e poderes próprios em matéria de verificação do cumprimento de deveres no âmbito da sustentabilidade ambiental e social (que poderá estender-se, na linha do que se disse acima, à verificação do respeito dos direitos dos trabalhadores e em geral do cumprimento das regras de conduta) – o Comité de ética e responsabilidade social (CERS). Este órgão deveria ser obrigatório nas sociedades anónimas e por quotas de maior dimensão, ainda que, em alguns casos, se deva encarar a possibilidade de ser unipessoal e emanaria da assembleia geral. Teria ademais a virtualidade de controlar a prossecução de políticas de rentabilização de capitais a curto prazo.
- Este seria um primeiro instrumento destinado a assegurar o cumprimento dos deveres. Outro instrumento pensável é o de prever na lei a adopção voluntária de um sub-tipo societário, dentro dos tipos legais-reais, que é o de sociedade socialmente responsável (SSR). A adopção deste sub-tipo envolveria necessariamente a criação do órgão acima referido (CERS) e a adopção de uma carta-compromisso em matéria de respeito por políticas de sustentabilidade ambiental e social e por padrões de conduta especialmente exigentes, com um âmbito mínimo fixado na lei, e que, uma vez adoptada, implicaria a possibilidade de sanções (no limite, a dissolução da sociedade). Poderia pensar-se em associar a adopção deste sub-tipo a um controlo externo do tipo certificação ou acreditação, que verificaria o cumprimento e decidiria sobre a manutenção do sub-tipo SSR.
- Nas sociedades anónimas de maior dimensão, este Comité teria a virtualidade de poder integrar stakeholders – podendo distinguir-se entre aqueles que tutelam os seus interesses eficazmente por instrumentos contratuais, por terem força ou peso para tal, e aqueles que não podem deixar de confiar na regulação e no controlo institucionalizado – e até membros da comunidade (independentes).
- Em síntese: numa primeira etapa, o governo das sociedades deverá responder às imposições de responsabilidade social e ambiental pela imposição de deveres sobre sócios e administradores e pela adopção de mecanismos e órgãos de controlo. O que não seria um passo particularmente ousado, pois que corresponderia, se bem vemos, à generalização e institucionalização de caminhos que vêm já sendo seguidos pelas sociedades mais responsáveis.
- Fica uma última palavra para a proposta de Directiva da União Europeia sobre o dever de diligência das empresas em matéria de responsabilidade social, cujo processo de aprovação teve já passos relevantes. A opção do legislador europeu, a reflectir, naturalmente, nas legislações nacionais (ainda que, no caso, com grande margem de escolha), vai no sentido de ser imposto às (maiores) empresas (sociedades, na sua grande maioria) um dever de diligência (art. 5.º, n.º 1), que se analisa primeiro na identificação dos possíveis efeitos negativos, reais ou potenciais, nos direitos humanos e no ambiente das actividades de cada empresa (art. 6.º, n.º 1) e depois na prevenção, atenuação e cessação desses efeitos negativos (arts. 7.º, n.º 1, e 8.º, n.º 1) – sendo que é efeito negativo no ambiente aquele que é ‘resultante da violação de uma das proibições e obrigações decorrentes das convenções internacionais no domínio do ambiente enumeradas no anexo, parte II’ (art. 3.º, alínea b)). Este dever deverá ver o seu cumprimento supervisionado por autoridades nacionais de supervisão (art. 17.º, n.º 1) e deverá corresponder-lhe a imposição na lei nacional de um dever de diligência do administrador, que se analisa em, no âmbito do dever de agir no interesse da empresa, ele ‘ter em conta’ as consequências das suas decisões em matéria de sustentabilidade (n.º 1 do art. 25.º).
Ainda que com um âmbito à partida circunscrito, pois que se reporta a efeitos negativos resultantes da violação de convenções internacionais e que não impõe à empresa (rectius, em regra, à sociedade) um dever positivo que se integre no seu escopo lucrativo, a transposição para os direitos nacionais destas regras será de grande importância: desde logo, passará a existir, afirmado directamente na lei, um dever da própria empresa em matéria ambiental e de direitos humanos; depois, ao dever das empresas na actuação das suas operações, passará a corresponder necessariamente um dever dos seus administradores, enquanto sujeitos que, na estrutura societária, têm por função e dever actuar essa ‘operação’, de prosseguirem a tutela ambiental nos termos em que ela impende sobre a própria sociedade – e não cremos que se possa extrair dos termos do n.º 1 do art. 25.º da Proposta um alcance menor para o dever dos administradores: se o dever de empresa existe, qualquer que seja o seu alcance, o administrador, ao agir no interesse desta, tem que considerar (‘ter em conta’ é dizer o mesmo) o dever em matéria de sustentabilidade como um dever integrado no dever da empresa e não como um dever lateral a considerar ao lado de outros (com o que a expressão ‘ter em conta’ não implica uma desvalorização do dever do administrador e não cobra sentido qualquer comparação, para concluir por essa desvalorização, com o art. 64.º do CSC);12 por fim, a imposição directa de um dever à sociedade e do correspondente dever aos administradores abrirá a possibilidade de se impor aos sócios que assumem a condução das estratégias e políticas da sociedade e que têm o poder de nomear, vigiar e destituir os administradores um dever de assegurar o cumprimento do dever da própria sociedade. - Com os caminhos que se apontam e outros que se adivinham, a sociedade e o seu governo, tal como o direito que a governa, estão à beira de uma revolução – muitos dos quadros clássicos, como o da absoluta primazia do accionista, tidos como imutáveis, estão em mudança. Com Hayden/Brodie, bem pode dizer-se que ‘estamos no princípio do fim’ de uma ‘nova revolução’ – que os autores apontam ir no sentido de um novo modelo de participação dos trabalhadores, mas que se prefigura mais como uma revolução nos escopos da sociedade, que reflectem agora uma nova responsabilidade pela Sociedade de que se vem servindo e que agora vai também passar a ter que servir.13
Autor
O que gostaria de fazer?
- Mais desenvolvidamente, v. Filipe Cassiano dos Santos Os mecanismos para a cooperação no exercício da empresa – sociedades, grupos e acordos parassociais, consórcio e joint venture, ACE e cooperativa (Lisboa, Petrony Editora, 2023) 71 e segs.
- Destacamos, na literatura em língua inglesa que se nos afigura mais significativa, B. Choudhury/M. Petrin (eds.) Understanding the company (Cambridge, Cambridge Press University, 2017) e Grant M. Hayden/Matthew T. Bodie Reconstructing de company. From shareholder primacy to shared governance (Cambridge, Cambridge Press University, 2020).
- Choudhury/M. Petrin (2) Introduction 1.
- Sobre a afirmação do texto e o debate que ela suscita, v. Choudhury/M. Petrin (2) 4-5
- Para uma crítica dessas opções do legislador, v. Filipe Cassiano dos Santos, ‘O direito comercial na actualidade e o sentido de um (novo) código mercantil – os caso paradigmáticos dos contratos de associação em participação e de capital de risco e do interesse na tutela do crédito’ [2019] (setembro/outubro, ano 149.º) Revista de Legislação e de Jurisprudência 44 e segs.
- Cf., de novo, Choudhury/M. Petrin (2) 9.
- Assinalámos isto já há muito: cf. Filipe Cassiano dos Santos Estrutura associativa e participação societária capitalística (Coimbra, Coimbra editora, 2007) 72 e segs.
- Cf., sobre essas mutações, o nosso ‘O direito comercial na actualidade’ (5) 30 e segs.
- Sobre o escopo lucrativo e os seus reflexos nos sócios, v. Filipe Cassiano dos Santos, Os mecanismos para a cooperação no exercício da empresa (1) 67 e segs.
- Filipe Cassiano dos Santos ‘Obrigações emitidas por bancos com atribuição de privilégio: fundos próprios e medidas de resolução, responsabilidades elegíveis para mrel e deveres dos administradores bancários’[2022] Revista de Direito Comercial 934 e segs.. Disponível aqui, e, em síntese, 'Acção, legitimação para exercer o direito de voto e tutela do adquirente a non domino – dever dos administradores de apresentação a processo de revitalização, deliberação aprovada com votos emitidos sem legitimidade e deliberações aparentes’ [2023] (15, vol. 30) 29, nota 4.
- Cf., no quadro das suas propostas para repensar a sociedade - a partir da sua indeterminação (recorde-se a nota que acima deixámos sobre a ductilidade da sociedade como instrumento ou mecanismo) – e o seu governo, a conclusão-síntese de C. Bruner ‘The corporation intrinsic attributes’ in B. Choudhury/M. Petrin (ed.) Understanding the company (2) 87 (cf., tb., 77).
- Sobre o alcance do art. 25.º, sublinhando ‘os termos excessivamente vagos e suaves’ que não permitem conformar ‘obrigações jurídicas em sentido próprio’, cf. Catarina Serra ‘Dever de prevenção da insolvência, obrigação dos administradores de tomar em conta os interesses dos sujeitos relevantes e sustentabilidade das empresas’ [2023] (15, vol. 30) DSR 96 e nota 65.
- Grant M. Hayden/Matthew T. Bodie, Reconstructing de company (2) ix e 188.